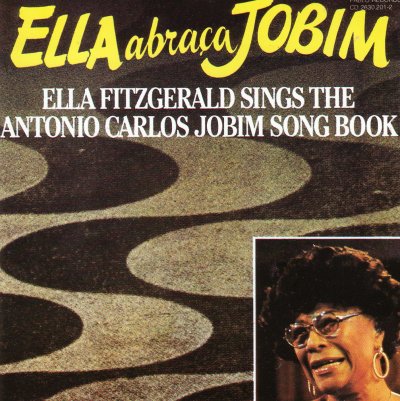por Homero Nunes
![]()
Sinatra foi a voz e a elegância em carne e osso. Nunca usava ternos claros à noite, usava chapéu. Gravatas de seda. Sapatos engraxados, nunca marrons. Recusava-se a vestir smoking aos domingos, era roupa de sexta ou sábado. Bebia invariavelmente seu Jack Daniel’s ao anoitecer, fumava charutos, também cigarros. Jogava poker. Foi casado com quatro mulheres lindas e namorou todas as lindas de sua época. Foi canalha com muitas, loucamente apaixonado por uma só. Tinha relações com poderosos de todos os tipos, inclusive com a máfia. Fez sucesso em tudo que fez. É o grande nome da música americana, mesmo odiando o rock e desdenhando tudo mais. Seus olhos azuis brilharam em mais de 50 filmes, ainda naqueles em preto e branco. Gravou 59 álbuns, o último aos 80 anos. Cerca de 1500 músicas, entre singles, trilhas, participações e discos próprios. Ficou conhecido como The Voice, a voz. Tentou suicídio por duas vezes. Costumava dizer: “não esconda suas cicatrizes, elas fazem de você quem você é”.
![]() |
| As cicatrizes de Sinatra: boca, linha do maxilar, orelha e pescoço. Ele usaria maquiagem a vida toda para tentar disfarçá-las. |
Desmentido, Sinatra escondeu a vida toda suas mais profundas cicatrizes. Aquelas do brutal nascimento no inverno de 1915, 12 de dezembro, quando o médico o arrancou a fórceps do útero da mãe. Menina genovesa de 19 anos, imigrante pobre, com imensa criança que lhe rasgava os canais. Após horas de sofrimento o doutor pegou os instrumentos e o deu como morto ou sacrificado em nome da vida dela. Puxou o menino com tanta violência que lhe rasgou o rosto, a orelha, o pescoço, a linha do maxilar. Jogou-o na pia da cozinha pelado, amassado, desfigurado, coitado. Voltou suas linhas e gazes para a mãe, preocupado com o sangue e os tremores. Foi a avó, aquela rejeitada parteira, que escutou o choro entre os gritos. Jogou logo água gelada nos ferimentos e embrulhou os trapos. Nascia Francis Albert Sinatra, na violência do mundo desde os primeiros minutos da vida.
![]() |
| O bebê Sinatra, fotografado pelo perfil direito de modo a esconder as cicatrizes do lado esquerdo do rosto |
Hoboken era o gueto dos maus elementos, italianos e irlandeses, sujos e malvados. Nova Jersey, a prima pobre de Nova York. Pobre, feia e mal falada. Degraus abaixo na relação centro-periferia. Pior ainda para os italianos de sotaque duro, abaixo ainda na estratificação social local, liderada pelo sotaque rústico dos irlandeses. Tão duro que o pai de Sinatra fingia ser irlandês, boxeador, dono de bar, para ascender na escala da mesquinhez, assumindo o nome de Marty O’Brian. Afinal, antes malvado do que sujo carcamano. Alegria de pobre. Logo lhe apareceria o siciliano com todo peso de classe e origem sobre os ombros. Os Sinatras em sangue e história.
![]() |
| Frank Sinatra preso pelo crime de "Sedução", em 1938, acusado de engravidar uma moça. Ela não estava grávida. |
Nas décadas seguintes, com o inglês sem sotaque algum, o filho conquistaria o sonho americano, construindo em si a figura mais popular da música americana, multimídia em disco, rádio, cinema e ao vivo. Mas começou a contragosto do pai, envolvendo-se com tipos estranhos em ternos brilhantes, músicos negros, clubes de jazz, álcool e mulheres daquelas. Garimpando espaço em grupinhos, sessões de calouros, canjas em bares. A mãe quase morreu de desgosto, melodramática, ao melhor estilo terra nostra.
![]() |
| Sinatra e Nancy, a primeira mulher, Hoboken, anos 30. |
Das docas e atracadouros na beirada do rio, Hudson, os rapazes de Hoboken ficavam admirando Manhattan, a Skyline, a linha de prédios e arranha-céus. O outro mundo do outro lado do rio. Distante, inacessível. Para a maioria eterna miragem, para um deles New York, New York: “Comece a espalhar a notícia, estou partindo hoje... eu quero acordar na cidade que nunca dorme... se eu conseguir lá, consigo em qualquer lugar... rei do lugar, top of the heap... It’s up to you... New York, New York...”
Conseguiu lá e em todo lugar: Nova York, Hollywood, Las Vegas, Tóquio, o Maracanã, o mundo. Há quem diga que por caminhos tortos, contando com a ajuda da máfia e daquelas propostas que não há como recusar, apadrinhado por algum chefão no estilo Mario Puzo ou o Brando de Coppola. Era mesmo muito bem relacionado com os carcamanos, o pai tinha trabalhado no contrabando de gorós durante a lei seca, muitos capangas tinham estudado (ou matado aula) com ele na escola do lado errado do rio e, afinal, ganhava a vida trabalhando na noite nova-iorquina – controlada advinha por quem? Fosse em Vegas, Havana, Miami ou Midtown NY, so sorry, quem dava as cartas eram os mesmos chefões. Sinatra aprendeu cedo a flertar com o poder e tirar proveito disso, pois, se tinha que quebrar o preconceito de ser ítalo-americano, também podia usar a origem a seu favor. Inclusive para aquecer a imagem de bad boy (bad, bad Leroy Brown) que encantava as meninas.
![]()
Na verdade, gostava do poder e apanhava por isso, principalmente da imprensa e da política. Apoiou vários candidatos – os Dead Kennedys, Nixon, Reagan etc. – e frequentou comícios e salões da Casa Branca. Recebia mesmo os figurões em sua mansão de Palm Springs. Todos o queriam por perto nas eleições, quase todos o queriam longe depois de eleitos. Mas a política era, com efeito, narcotizante.
A Imprensa o batia – ainda que tenha sido ele o processado por nocautear um repórter – por vários motivos: máfia, política, más influências, confusões e bebedeiras, críticas de discos e filmes e, sobretudo, por sua atribulada vida pessoal e amorosa. Ah, as mulheres de Sinatra! O primeiro casamento foi com o amor da Adolescência, Nancy, a italianinha de New Jersey, mãe dos filhos. Linda a seu modo, horrorosa perto de Ava Gardner (todas eram horrorosas perto dela). O romance com a estrela do cinema começou ainda quando Nancy cuidava das crianças, escancarado pelos paparazzi nos jornais. Quando a matriz cedeu o divórcio, Frank casou-se com Ava dias depois. Meses depois ela o pisou com força, lambendo o asfalto, deixando as marcas dos saltos na alma.
![]()
Ava Gardner foi a maior mulher de sua época. 1,68m de imensidão feminina, gigantesca. Independente, inteligente, educada, fina, culta, linda, matadora. Sinatra nunca tinha se aproximado de uma mulher de tal estatura. Ele, o menininho de Jersey, o italianinho do jazz, de apenas 1,72m de charme quase brega e derrubador de fãs adolescentes, trocando olhares com aquela imensidão de mulher. Caiu-lhe de quatro. Ela, do alto de seus andares, divertiu-se com ele aos excessos, entregou-lhe o seu mundo, deixou que experimentasse o cheiro dos mais elevados ares do Olimpo. Ele, galopando degraus acima, ficou embriagado, loucamente apaixonado. Logo ele, machista entre a Sicília e Gênova, possessivo e mimado, aos pés de uma mulher... e que mulher!
Mas o casamento dos deuses desandou. Ela era independente demais para cuidar de homem, grande demais para se conformar à sua sombra. Em viagens e filmagens, o deixou lambendo dedos, botas, asfalto, para trás. Quando Sinatra acordou, um destemido toureiro já balançava a capa diante do touro em Madrid. Ava pediu o divórcio e foi brilhar em outras galáxias. Frank afundou-se na lama, deitando sarjetas e desafiando a morte por sua própria conta.
Fracasso nunca vem só, coincidiu com baixa nas vendas, péssimos shows, escassez de convites, fuga dos amigos, depressão, esquecimento. Resiliente, quando escapou do poço e o fez do jeito dele. “I did it my way”. Tocou sofrimento nas interpretações, romantismo nas músicas. Sabia que ninguém que não tivesse sofrido tanto por amor poderia cantar como ele e, assim, já eliminava boa parte da concorrência água com açúcar. Voltou com a força de quem resistiu à tempestade, envergado, mas não quebrado. Por fim, ainda ganhou um Oscar.
![]() |
| Ernest Bornaigne, Burt Lancaster e Frank Sinatra em "Form Here to Eternity", 1953 |
Dizem que a Máfia ajudou Sinatra a conseguir o papel no grande filme de sua carreira, A Um Passo da Eternidade, de 1953. Ele, o diretor Fred Zinnemann e os produtores sempre negaram isso. Mas quem ousaria ficar com o ônus da prova? Não importa mesmo. Vale o Oscar que Sinatra ganhou pelo papel de um fracassado coadjuvante bebum na guerra. Boa praça que ele só. Fracassado como estivera nos últimos tempos. Da sarjeta, Frank Sinatra voltava agora como um artista maior ainda. Ator monstro, “a um passo da eternidade”.
![]() |
| Lauren Bacall |
Recuperado do choro e do asfalto, da desilusão do amor, a vítima seguinte foi a viúva de Humphrey Bogart, amigo íntimo, ninguém menos que Lauren Bacall. Lindíssima, espetacular Lauren Bacall. Não demoraram os abutres a dizer que o romance teria começado antes da morte de Bogart ou antes de o defunto esfriar. Muita pressão, câmeras e flashes em todo restaurante, bar, hotel, aeroporto ou espelunca que pisavam. Não há amor que resista ao mau humor que tal exposição imprime. Quebraram-se os corações e fizeram andar a fila. Além do perfume e daquele fio de cabelo no paletó, Lauren Bacall deixou com Frank e os amigos a alcunha da gang: um pacote de ratos, o Rat Pack.
![]() |
| Dean Martin, Jammy Davis Jr. e Frank Sinatra |
Lauren Bacall teria colocado o apelido na turminha do seu marido (Bogart) devido à formação de quadrilha que comumente manchava a mobília da sala com copos de uísque. Desde então, alguns entraram e saíram, mulheres também, até que cinco deles fixaram a alcunha em si: Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Joey Bishop e Peter Lawford. Começaram compartilhando o estilo de vida que o dinheiro farto do showbiz podia pagar: festas, bebedeiras, mulheres lindas, carrões, fama e ternos e cabelos bem cortados; contudo, foi quando reuniram os talentos nos placos que o Rat Pack embriagou o público, também o público. Jack Daniel’s no copo, cigarro aceso nos dedos, muito humor, esquetes, música de qualidade e uma elegância politicamente incorreta – entre o machismo moderado e o charme de conquistador quase barato – derretiam a plateia em entretenimento e carisma. Las Vegas era o habitat daquele pacote de ratos, mas também Hollywood os produziu, incluindo Ocean’s Eleven (Onze Homens e Um Segredo, 1960), que nem precisa dizer que compensa. Get a drink, sit back and enjoy the show!
![]() |
| Ocean's Eleven, 1960 |
O líder dos ratos, Sinatra, orgulhava-se ainda de impor, na Las Vegas branca e protestante da época, racista e segregadora, a presença de músicos negros na orquestra e, mais longe, a figura de um negro, Sammy Davis Jr., como membro oficial do Rat Pack. Diz a lenda que um dia um dono de cassino reclamou e Sinatra ameaçou abandonar Vegas caso o infeliz repetisse o despautério. Claro que não repetiu. Mas Sinatra incorporaria nos anos seguintes, pelos amigos que fez na estrada e pela admiração pela música negra, o discurso antirracismo e a crítica à desigualdade de direitos dos artistas negros nos Estados Unidos.
![]() |
| Sinatra e Mia Farrow |
Quando fez 50 anos, em festa e muito uísque, Sinatra casou-se com Mia Farrow, então com 21 anos de idade, muito mais jovem que sua própria filha. Mais uma vez foi chamado de imoral pela imprensa marrom e não teve sossego para viver um amor do modo que a idade pedia. Durou dois aniversários. 10 anos depois Sinatra encontrou enfim a mulher que o acalmou, Barbara Marx. A loira, alta, linda, modelo, apenas 12 anos mais jovem, que ficaria ao lado dele até a morte, em 1998.
![]() |
| Barbara Marx e Sinatra |
Sinatra tinha tentado a aposentadoria, cansado da guerra, nos anos 70. Despediu-se, fez show de nostalgia, declarações emocionadas e muita gente chorou e lamentou, claro. Mas não deu certo. Voltou com toda a carga até o final da vida. Em 1980, levou mais de 170 mil pessoas ao Maracanã, num show histórico, o maior de sua carreira. Tinha que ser no Brasil mesmo.
O coração lhe cobrou as emoções aos 82 anos, num ataque fulminante. Deixou órfãos o rádio, o cinema, a música popular, todos nós. Aquele copo de boca larga e fundo grosso, o gelo flutuando no bourbon, o cigarro entre os dedos. Terno escuro, gravata frouxa, desabotoado colarinho. Chapéu cavangnah. Magro, grandes olhos azuis, cicatrizes no rosto. Delicadamente incorreto, agressivamente sedutor. Sinatra herdou a silhueta da família, as marcas da vida dura e o estilo dos maus elementos de ascendência italiana. O charme, o talento, o gênio de Frank Sinatra, a voz.
por Homero Nunes